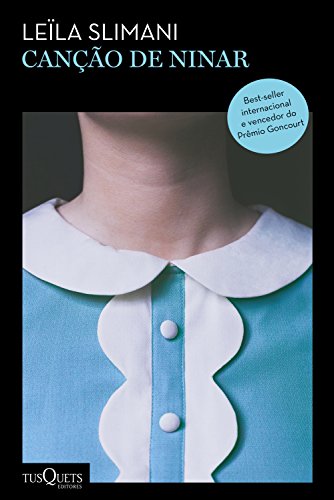
Quando você entra em um quarto ou até mesmo numa sala, você tende a perder a noção do aberto, de uma zona franca do olhar que é retida por paredes que bloqueiam a visão, mas trazem uma certa presença íntima das coisas. Até para o mais surpreso personagem ao se ver preso entre paredes, muda o foco e o discurso em que este foco tem seu tripé. Estou só, libero minhas guardas? Penso com mais liberdade?
Penso que ao escolher um jeito de narrar, o autor escolhe certa intimidade com que vai lidar, com a escolha da sua história. Como se fará o olhar do narrador perante curso ou o rio da ação? Espontâneo como uma leve correnteza, sem amarras ou correntes que prendam os ditames e percursos dos personagens na ação. Será que o autor tem certo medo de uma liberdade irrestrita, de soltar totalmente a imaginação em trilhas sujas por onde o inominado reine solo e solto sem freios? O escritor tem medo dos seus leitores.
Ao escolher uma narração em terceira pessoa com certo peso na distância fria ou calculada do percurso narrado, a escritora franco-marroquina Leila Slimani em seu Canção de Ninar (pelo selo Tusquets da editora Planeta), que levou o prêmio Goncourt recentemente opta por uma certa isenção de tomada. Como certa câmera que é deixada ali num espaço onde se filma sem a mão de um cinegrafista que possa ter o controle do que filma, mas sim, também ser um filtro do que é captação de imagens ou não. A autora irá sim, de forma sutilíssima tomar possível opção em detrimento de uma posição em esmiuçar a história sem pré-julgar.
Cabe salientar que a narração começa com um crime, um infanticídio de irmãos que uma babá olha. Ela própria a comete. O casal que tem um jornada extensiva durante todo o dia, e devido às ótimas recomendações de terceiros contrata Louise para olhar os filhos do casal. Note, leitor, que não usei a palavra cuidar nem pagear. Embora Louise faça exatamente isso durante toda ação transcursiva da narração. Sua noção de comprimento do seu trabalho é quase ou é milimetricamente eficiente. As crianças a adoram.
É interessante notar como é bem delineado os perfis do progenitores. Paul (Pai) e Myriam (Mãe) são pessoas responsáveis em seus atributos profissionais, Myriam acaba de se tornar um grande advogada. E Paul tem certo controle artístico numa produtora de música onde mexe com artistas dos mais variados naipes. Há uma certa distância mais especificamente da mãe com relação a fomentar uma maternidade de forma mais afetiva ou afetante. É com se ali houvesse um certo deslize… uma fenda que algo ocupe…
Leila traça toda narrativa como um movimento de maré quando ela vai traçando o afeto da babá pelos dois, formas de ocupar o espaço ou a fenda. Ela realmente está conectada com as crianças. Mas há algo fugaz talvez em sua idealizações ou aspirações, como se o real para Louise fosse um castelo de cartas que ao menor vento desmoronasse…
E a maré vai caudalando o espaço, coisas acontecem entre patrão e babá que rui certa confiança entre eles. Os bens materiais ou os alimentos são peças de desgaste (distinções sociais), visões antagônicas entre o desperdício dos patrões e o bom uso e proveito de Louise das peças de casa. As derrissões são sempre na periferia do habitat, Paul e Myriam nunca desconfiariam de maus tratos com as crianças.
Louise projeta viver ali dentro deste núcleo familiar. Trocar o lugar que mora, um subúrbio da cidade, pelo viés do pertencimento familiar. Há toda uma carga que lhe pesa as costas: O ex marido morto aproveitador e que lhe deixou dívidas, a filha que é expulsa da escola. É muito interessante notar que o efeito do livro parta de uma assassina que cometeu o crime, mas que em todo processo de narração a autora não a desumanize, que deslize nesta conjuntura, possíveis respostas para um ato inominável nas disfunções sociais entre classes.



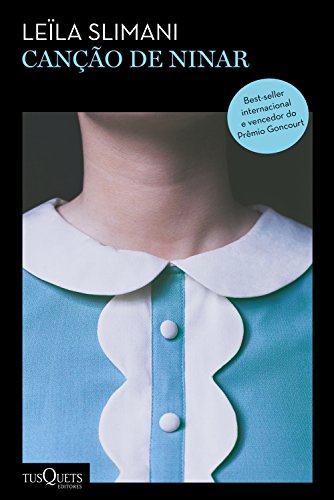





Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.