Às vezes uma tragédia acontece às vésperas da Páscoa. Em 2015, foi uma tragédia que abalou o mundo cinematográfico: a morte de um dos maiores e mais memoráveis diretores do planeta, o português Manoel de Oliveira, aos 106 anos de idade. Mais do que sua avançada idade, devemos nos espantar ao analisarmos sua obra e sua trajetória. Ele sobreviveu a todas as revoluções dentro e fora do cinema: a passagem do cinema mudo para o falado, do preto e branco para o colorido, da película para o digital. Mais que isso, sobreviveu à ditadura em Portugal, que muito limitou seu trabalho, mas voltou com força e talento total em uma idade em que qualquer outro já estaria pensando em aposentadoria.
Manoel detinha o recorde de ser o último sobrevivente da era muda do cinema português, e também a única pessoa viva em 2015 a trabalhar já adulto no cinema mudo. Sua estreia e única incursão como ator nos filmes silenciosos se deu em 1928, quando ele tinha 20 anos. Foi figurante no filme “Fátima Milagrosa”. Pensava já, entretanto, em trabalhar atrás das câmeras, e planejou rodar com amigos uma película sobre a experiência portuguesa na Primeira Guerra Mundial. A ideia não vingou, e sua primeira vez como diretor aconteceu com “Douro, Faina Fluvial”, em 1931, um documentário mudo sobre sua cidade natal, Porto.
Nos 30 anos seguintes faria um único longa-metragem, “Aniki Bobó” (1942) dedicando-se apenas a documentários, e há uma explicação política para isso: em 1932 chegou ao poder António de Oliveira Salazar. O Estado Novo português durou 41 anos, só acabando com a Revolução dos Cravos em 1974. Como em qualquer regime autoritário, obras que incentivassem o pensar estavam fora de cogitação, e Manoel teve grandes dificuldades para filmar sua ficção. Desde o início havia conquistado pequena parcela do público, mas grande parte dos críticos. Mais tarde, “ressignificou” este período ao dizer que aproveitou as férias forçadas para refletir acerca da natureza artística do cinema.
A partir de 1990, recuperou o tempo perdido e fez praticamente um filme por ano, incluindo “Viagem ao Princípio do Mundo” (1997), o último do grande ator Marcello Mastroianni, “O Convento” (1998), com Catherine Deneuve e John Malkovich e “O Gebo e a Sombra” (2012), com Jeanne Moureau e Claudia Cardinale. Tinha como ídolos e inspirações os grandes do cinema mudo: Griffith, Von Stroheim, Dreyer, Eisenstein. Fez releituras de Dante Alighieri, Eça de Queirós, até dos sermões do padre Antônio Vieira. Desde 2012 planejava fazer um filme no Brasil, “A Igreja do Diabo”, com Fernanda Montenegro e Lima Duarte (com que já havia trabalhado em “Palavra e Utopia”, de 2000).
Manoel era sempre bem recebido no Brasil, desde que veio a uma das primeiras edições da Mostra Internacional de Cinema, no final dos anos 70. Seus filmes estavam longe de serem sucessos comerciais, e algumas vezes foram recebidos com frieza pelo acalorado público brasileiro, mas Manoel de Oliveira, sempre prolixo, sempre com mais algum recado a dar, voltava frequentemente, desfilando bom humor e vitalidade pelas ruas de São Paulo.
Apesar de sua idade e do inexorável galope do tempo, é difícil acreditar que o perdemos. Muitos cinéfilos lamentaram e expressaram com exatidão nosso desejo contido de que ele fosse imortal. Mas acredito que os grandes diretores não morrem: uma centelha de suas vidas resplandece cada vez que vemos ou revemos suas películas. E não são seus prêmios (títulos de doutor honoris causa nas universidades do Porto e de Algarve, dois Leões de Ouro e uma Palma de Ouro pela carreira) que vão manter seu espírito vivo: são seus filmes. Os filmes de alguém que venceu todas as adversidades, por amor ao cinema.
“O cinema tem essa coisa extraordinária que é o poder de fixação” – Manoel de Oliveira






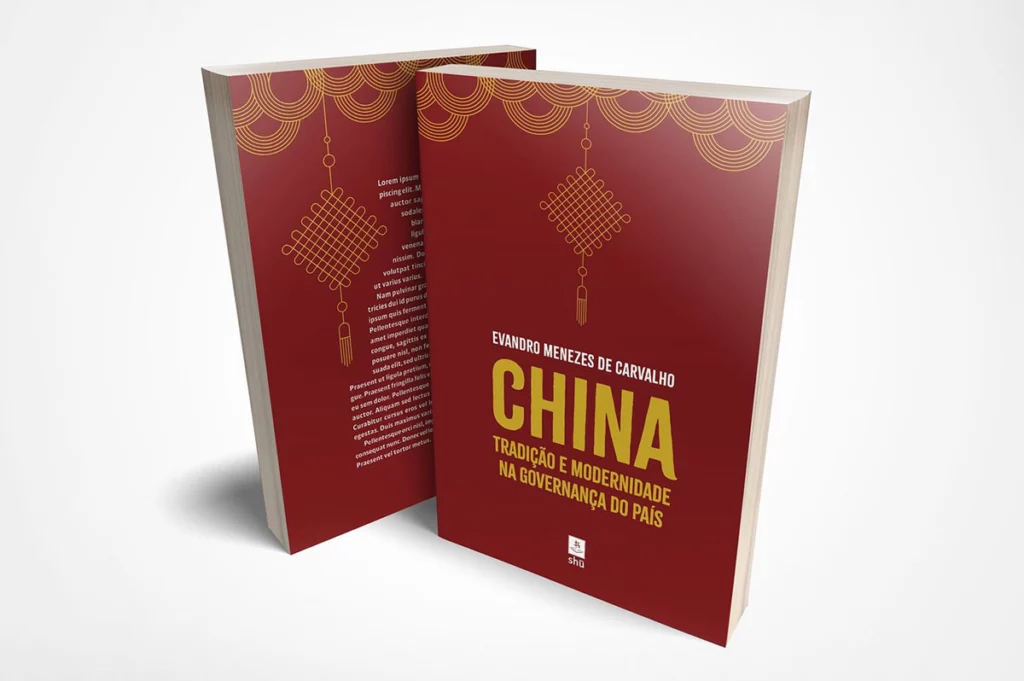


Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.