

Assisti a “O Nome da Morte” em um espaço típico reservado ao cinema nacional. Menor sala de um shopping, espremida entre os cheiros de uma praça de alimentação gordurosa, sob os sons dos corredores, de outros filmes e das crianças correndo – provavelmente longe de pais displicentes. Sala vazia, diga-se. Sete pessoas contando os funcionários. Pipoca fria, parecendo a isopor, refrigerante quase vencido, “tá mais barato por isso”, segundo a funcionária do local.
Baseado em um belíssimo e bem construído livro de autoria do escritor Kléster Cavalcanti, conhecido pela sutileza do seu texto e pelo rigor das suas pesquisas, o filme traz os mesmos vícios que fazem do cinema nacional produtor de bons filmes para a televisão e arremedos para o cinema. Diferente do que apontou o diretor Henrique Goldman em entrevistas para a divulgação do trabalho, o filme não é fiel ao livro. Destoa no principal aspecto: não tem plasticidade ou movimento. Erros recorrentes em outros filmes – curiosamente da Globo Filmes – são repetidos. A boa história é assassinada em uma fotografia bipolar. Os planos próximos são ótimos, distanciada a cena, é ‘marejada’, cheia de um efeito anacrônico de opacidade e desfocar despropositado.
A direção de arte e a fotografia pecaram. A edição de cena também. Há sequências desnecessárias, como a que apresenta a primeira namorada do protagonista logo ao início. Certos atores são explorados em suas características mais anedóticas. Fabiula Nascimento pode fazer duzentos filmes, nunca alterará seus trejeitos ou sotaques. É como se interpretasse a si mesmo. Assim como Tony Tornado, ótimo ator e sempre mal aproveitado pelas direções dos trabalhos em que atua. Único negro de destaque na película, é apresentado de forma caricata, cabelos lembrando Grande Otelo em Macunaíma. O ator merece um papel de destaque, não apenas as pontas a que é submetido. Matheus Nachtergale é outro que se repete. Destaque para André Mattos, impondo um ar mais sombrio à sua interpretação, mesclando-o com momentos de fina ironia.
Interpretando Júlio Santana, o assassino de quase quinhentas pessoas, mortas ‘profissionalmente’ Marco Pigossi tem uma atuação morna. Ninguém diria que se trata de uma pessoa capaz de assassinar em um ritmo frenético. A ideia era exatamente essa, com certeza, quando o elenco foi escolhido. O verdadeiro Júlio Santana sempre escondeu a sua real identidade, ocultou seu emprego sob uma farda roubada, propiciou conforto e bem estar à família sem despertar a atenção aos vizinhos. Fez da vida morna um caminho para a explosão dos seus atos e dos tiros certeiros.
Ao tratar a sua atividade de forma profissional Júlio Santana cria condições para executá-la. Embora atormentado por pesadelos – o livro retrata melhor que o filme esse aspecto – o mergulho na religião é uma redenção. Homens maus também atendem ao chamado de Deus. Seria Júlio alguém desprezível? Embora não exista a glamorização do assassino, o filme leva, pelo rosto de cão pidonho de Pigossi a uma natural simpatia ao facínora.
Novamente, uma ótima possibilidade estragada por amarrações indevidas no roteiro, pela deficiência técnica na fotografia, erros de condução da direção e vícios de atuação dos principais atores. Destaque para a trilha sonora. O maior acerto do filme. Por fim, leia o livro. Ele é mais imagético que o filme e consegue impor maior movimento.







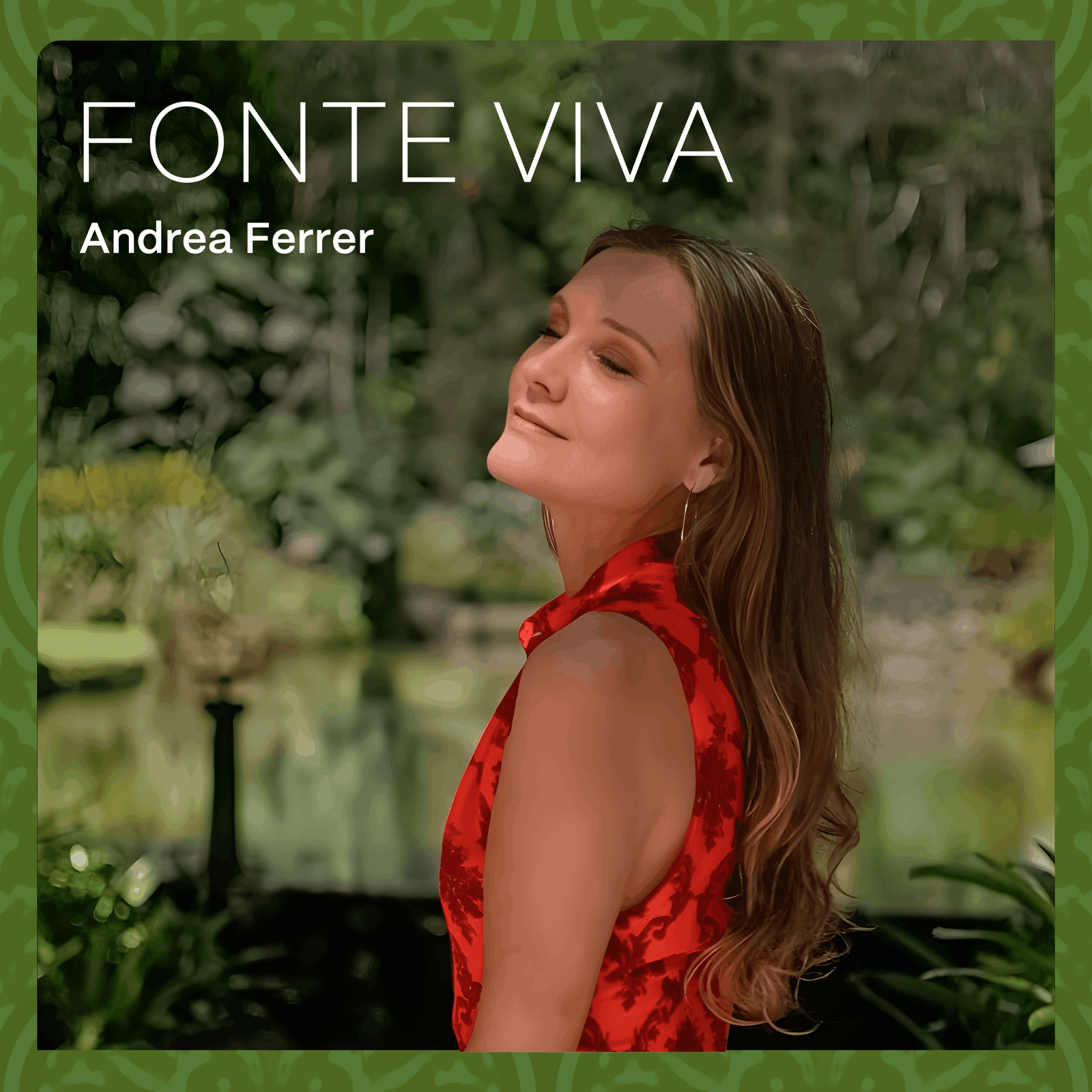

Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.