Marcelo Labes nasceu em Blumenau-SC, em 1984. É autor de Falações [EdiFurb, 2008], Porque sim não é resposta [Antítese, Hemisfério Sul, 2015], O filho da empregada [Antítese, Hemisfério Sul, 2016], Trapaça [Oito e Meio, 2016] e Enclave [Patuá, 2018]. Integrou a mostra Poesia Agora (edição carioca), em 2017. Tem poemas publicados em Mallarmagens, Livre Opinião – Ideias em Debate, Ruído Manifesto, Enfermaria 6 e Revista Lavoura. Edita a revista eletrônica ‘O poema do poeta’, onde publica originais manuscritos, esboços e rabiscos de poetas e ficcionistas.
Está lançando o livro Enclave. Seu texto explica que enclave é um lugar físico, mas carregado de subjetividade: um não-lugar a partir de Blumenau, do Vale do Itajaí, do arquipélago catarinense e do Sul branco – que olha para a Europa como olha um órfão para o retrato de sua mãe. Em seus poemas, Marcelo Labes procura revelar esta saudade meridional, este sentimento de não-pertencimento ao país onde está inserido – e de onde foge sempre mais para dentro de si. Confira a entrevista que o escritor concedeu à Revista Ambrosia.
Ambrosia: Você fechou muito bem seu livro dentro da definição de Enclave, saindo um pouco da definição dicionarizada para ir, além, buscando outras acepções tanto no nível formal como do conteúdo. Como foi trabalhar esta palavra no contexto que você queria para ela?
Marcelo Labes: Enclave eu achava que se tratava apenas de um termo da geopolítica que eu tinha buscado para compor os poemas do livro. Depois de algum tempo, pesquisando alguma informação sobre a cidade, verifiquei que retirei mesmo foi de uma propaganda oficial, acho que da Wikipedia, onde diz que a cidade é “um enclave germânico no sul do Brasil”. Isso estava em mim, de todo jeito. Porém redescobri a informação quando fui pesquisar acerca do meu então novo trabalho.
A grafia da palavra, tornada |enclave| nos poemas, procura dar a dimensão de clausura que o Enclave certamente tem. O conceito, porém, torna-se elástico de acordo com quem fala e de acordo com quem lê os poemas do livro. Esta elasticidade do conceito de enclave – que significa, a priori, um território dentro de outro território – acaba por traduzir-se em um território nostálgico e intensamente conservador.
Pensei em abordar a questão germânica de Blumenau, mas os poemas acabam tocando também a parte italiana de Santa Catarina, ao mesmo tempo em que fazem referência a um país branco, um Brasil branco e europeizado, que procura se distinguir do Brasil-de-fato, que é miscigenado, mas é também negro e originário. Se eu quis localizar o conceito a Blumenau, de onde partem a maioria das referências presentes nos poemas, eu quis mal; leitores de outras regiões do país me escrevem para dizer que o enclave é lá onde elas estão, seja em Minas Gerais, seja em São Paulo ou mesmo no Rio Grande do Sul.
No fim, são os leitores do livro que acabam por determinar até onde o conceito é capaz de abranger. Se nos primeiros poemas (ou nos primeiros fragmentos de um grande poema) há um certo direcionamento para a “Alemanha sem passaporte”, como se chamou Blumenau numa campanha publicitária de poucos anos atrás, não há final de livro, ou melhor, não há limite que defina até onde o conceito alcança. Enclave, no fim, é um território dentro de outro, mas também um território em oposição: um lugar que se pretende outro e de onde quem fala não sabe realmente a partir de onde fala.
A: Como lidar com as fronteiras, tanto na parte geográfica do Enclave como nas relações entre pessoas, populações, grupos, coletivos, famílias? A ideia que tenho que ações, ideias, pensamentos ainda são muito compartimentadas em certas posições fixas que não olham o entorno, a região fora de um certo núcleo. Você redireciona para o sul que tem uma formação cultural europeia (alemã e italiana). Como é isso? e como trabalhou essas”relações” no seu livro?
Marcelo: A região Sul padece dum mau complexo que ainda não consigo compreender de todo. Tem a ver, certamente, com o desconhecimento de História e de Sociologia (aquelas disciplinas tão incômodas para os conservadores), que permite que não se tenha passado por aqui – quando há, quando se olha para o passado, olha-se diretamente para a Europa, como se fôssemos lá antes e fôssemos aqui, agora, sem um caminho temporal percorrido. Pela necessidade de se ignorar o genocídio indígena e a conivência com a escravização de negros, simplesmente pula-se esta parte, ignorando um grande período de tempo. O que não é possível ignorar acaba sendo camuflado sob um amplo discurso de empreendedorismo fabril e turístico, hoje traduzido por folclore ou, muito pior, por “resgate das tradições”.
Em Blumenau, por exemplo, o discurso oficial não abrange os indígenas das etnias laklano-xokleng, kaingang e guarani, e os negros que viveram como escravos na colônia que daria origem à cidade. Os indígenas são ignorados pelo risco que se corre de, ao reconhecer o genocídio deste povo, sofrer pedidos de reparação e justiça. Já a ignorância dos negros tem a ver com o período em que o escravismo era legalizado, o que é bastante encoberto em toda região. Doutor Blumenau, o fundador daquela colônia, possuía escravos e há registros de negociação de negros na cidade e em seus entornos.
Veja: |enclave|, como trato no livro, não é um território meramente geográfico. Parece-me, agora, depois de o livro ter sido lido já em diversos lugares, que enclave é onde a narrativa oficial procura reescrever a história de um lugar e seu povo a fim de apagar os crimes e as injustiças.
As referências de que me utilizo ali são aquelas que me influenciaram e à sombra das quais cresci e aprendi a ver o mundo. Como se cresce sob uma educação protestante luterana em uma cidade cuja economia é fabril? Que influências e que marcas deixam os apitos das fábricas e o ascetismo religioso, acrescido do slogan que diz que ali vive gente que trabalha, acima de tudo? Como acreditar no sonho europeu, quando se é oriundo da classe média baixa de uma cidade que sempre se disse muito rica? É a essas perguntas – e a algumas outras, diversas – que procuro resposta nos poemas do livro. Essa é a minha porção pessoal de dúvidas.
Mas há questões que eu gosto de pensar que são coletivas, embora não sejam. Uma delas tem a ver com o movimento separatista “O sul é meu país”, com o qual parecemos acostumados, embora seja um movimento fraco e com poucos adeptos. Porém, as dúvidas existem: quais as razões políticas deste movimento? E quais as razões étnicas? Acaso não percebemos que o separatismo sulista tem a ver com a herança deixada pelos integralistas e nazistas que nos antecederam? Que por trás da divisão de receita com a república, o que se quer é que os negros, pardos e indígenas permaneçam do outro lado da fronteira?
Acho que sim, percebemos tudo isso. Porém, a percepção do racismo implícito nas manifestações folclóricas fica sempre para depois. Antes se pretende enaltecer um passado sombrio, mas sempre no escuro: não se quer que se saiba quem foram os colonizadores e como se deram os processos colonizatórios, e mesmo quem busca tais informações acaba falando sozinho, sem ter quem escute.
Se as ocorrências no livro são de origem alemã e italiana é porque calhou de eu ter nascido e ter podido apreender tantas informações – desconexas até – sobre o Vale do Itajaí, lugar onde nasci e me criei. Vejo que as referências do livro, se alteradas, podem fazer sentido em outros lugares, onde as experiências de vida sob o domínio de um discurso uniformizante também incomodem quem lá habite.
A: Você menciona os movimentos de imigração no seu livro. Que é um tema extremamente importante, hoje em dia, dentro dos países que estão cada vez mais fechados tanto aos imigrantes como refugiados. Esta linha de enredo com um determinado tema/foco e contexto, como costurou os elementos dentro de seu livro de poesia? Você pensou num fio que amarrasse o livro tematicamente?
Marcelo: O tema da imigração de europeus no sul do Brasil é interessantíssimo quando percebemos se tratar de uma região onde os crimes de racismo e xenofobia são recorrentes. Quando por um lado muitas etnias indígenas foram exterminadas ou reduzidas a quase zero, temos, por outro, o resgate das tradições dos ancestrais europeus. Uma coisa liga-se diretamente à outra: por temer a necessidade de enfrentar a responsabilidade histórica diante de diversos crimes, os descendentes de europeus localizam o passado onde ele não pode mais ser tocado, ou seja, na Europa do século XIX para trás.
Assim, questões tão ligadas à brasilidade como a escravidão, o genocídio indígena, a tentativa de branqueamento do país – mais os partidos fascistas que por aqui se proliferaram na primeira metade do século XX – e temas afins são simplesmente ignorados. Há somente uma questão a que sempre se retorna: a violência sofrida pelos descendentes de alemães durante a campanha de nacionalização do ensino ocorrida durante o governo Vargas.
Imagino, sim, que tenha sido uma forma de silenciar culturalmente muitos descendentes, já que se percebe uma produção cultural em língua alemã desde o século XIX. Porém – e ressalto isso em um poema do livro – de maneira incompreensível, à primeira vista, a violência sofrida pelos descendentes, cujo autor era o Estado brasileiro, torna-se apoio a esse mesmo Estado quando do golpe cívico-militar de 1964 e a subsequente ditadura. Vargas decreta o Estado Novo em 1937, para decretar a nacionalização do ensino logo a seguir. Dali até o golpe são menos de trinta anos: terá sido possível superar a ideologia fascista que surgia nos movimentos integralista e nazista em tão pouco tempo? Ou isso terá ficado escondido enquanto a o sentimento militaresco reaparecia de outra forma?
A maneira que encontrei para trabalhar minhas dúvidas – que são acadêmicas, mas também poéticas – foi a poesia. Não trato de discutir datas, correntes sociológicas, antropológicas, políticas etc. Por isso ressalto no fragmento XI tratar-se aquele de um poema, não uma aula de história, pois sinto que, muito embora existam acadêmicos muito competentes tratando de explicar o |enclave| e o sentimento de não-pertencimento ao Brasil (ou de pertencimento a uma Europa do passado), ainda assim há respostas que a ciência não consegue dar sozinha.
É aqui que entra a poesia, como que para cobrir uma lacuna imensa que não pode ser preenchida somente com a História e demais disciplinas das Humanas. Há sentimentos em questão: angústia, medo, terror – há distâncias, há silêncios, há olhares, há trejeitos… Com isso só a arte consegue lidar.
A: Há uma definição do Enclave que vem do latim, que significa: A palavra enclave vem do francês medieval enclaver (cercar) e do latim vulgar inclavare fechar. [1] Exclave tem raiz similar a excluir. Que traz toda uma carga semântica para os dias de hoje de sectarismo, segregação. É uma posição para se debater através da palavra, importante, para se ver as questões de alteridade num mundo cada vez mais hostil para as diferenças?
Marcelo: Enclave e exclave são quase sinônimos em geopolítica, que foi onde busquei o conceito. Há teóricos que defendem que, com a globalização em marcha, o caminho dos povos é se fechar cada vez mais, retomando sua ancestralidade. O que acontece aqui pelo sul pode ser confundido com essa retomada do que é ancestral. Creio tratar-se de um engano comum. Na verdade, o que acontece, no que tange à ancestralidade, são manobras políticas que visam ao turismo.
Blumenau tem parte importante nessa jogada. É somente a partir da década 1970 que se vê a germanidade como um negócio. Antes era um fenômeno orgânico, mas a partir da criação da Oktoberfest percebe-se que com o mote do descendente de europeu que não se desgarra das origens pode-se ganhar algum dinheiro, muito dinheiro, e o fenômeno se alastra por diversas outras cidades do Vale do Itajaí, de Santa Catarina e do resto da região.
O que defendo no livro é que o |enclave| (aqui em um sentido bem localizado) é exatamente igual ao seu país vizinho, o Brasil. Sofremos das mesmas violências protagonizadas pelo Estado (ou pela ausência dele), como a corrupção por parte de políticos e empresários, o coronelismo eleitoral e ampla ignorância conservadora, de onde vem o racismo, a xenofobia, a misoginia e todo tipo de moléstia social de um país subdesenvolvido.
Aqui as obras públicas também demoram anos para serem concluídas, há ganhos estratosféricos em negócios lícitos e ilícitos, enfim, o sul do Brasil é tão Brasil como todo o resto do país. A diferença é que as fantasias folclóricas que se vestem por aqui são chamadas “trajes típicos”, mesmo que para defender essa ancestralidade haja sempre um amplo esforço dos órgãos oficiais, pois é necessário explicar de onde vêm as tradições que são empurradas goela abaixo. Ora, desde quando se explica uma tradição a quem vive uma?
Na verdade, salvo algumas características muito peculiares – como o frio, os acidentes geográfico etc., o sul do Brasil que se pretende enclave europeu é, na verdade, um exclave do Brasil dentro dessa Europa com a qual se sonha, mas de onde pouco ou nada se sabe – e o que se acaba conhecendo é, claro, filtrado por narrativas nostálgicas.
Para se combater a segregação, creio que sejam necessários muitos anos de educação competente e progressista. Mas é também necessário deixar de fazer silêncio quanto ao passado histórico, retomar a questão sempre tão delicada do nazi-fascismo nacional (de ontem e de hoje), debater a reparação aos povos originários e ao povo negro, ambos violentados também pelos imigrantes alemães e italianos que por aqui chegaram.
Se tratássemos estes temas a sério, talvez o circuito de festas de outubro – e todas as demais festas forjadas como se se tratassem de homenagear antepassados – dessem lugar a amplos e urgentes debates sobre o exercício da brasilidade, sobre o exercício da cidadania, sobre como reparar indígenas (a começar pela demarcação justa de suas terras), a reparação aos descendentes de escravos e as violências todas levadas a cabo sob bandeiras de países que não existem mais (a violência contra senegaleses e haitianos talvez seja a melhor demonstração do que procuro dizer).
Alguns desses debates foram levados muito a sério no Brasil dos últimos anos. Aqui no Sul-Maravilha, por não se pretender Brasil – mesmo sem nunca deixar de sê-lo -, tais debates acabaram acontecendo a uma distância tão segura que apenas quem tinha os ouvidos muito afiados foi capaz de conseguir ouvir.













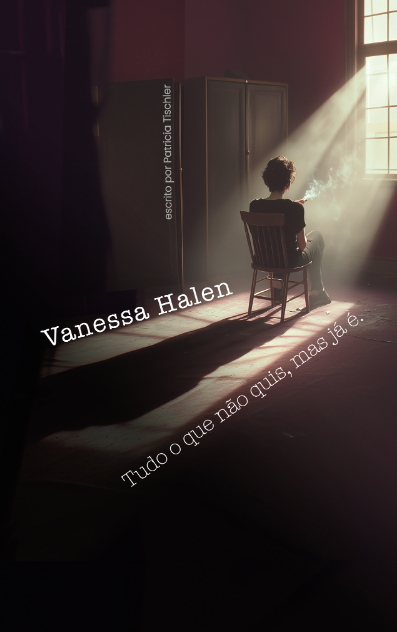
Comente!